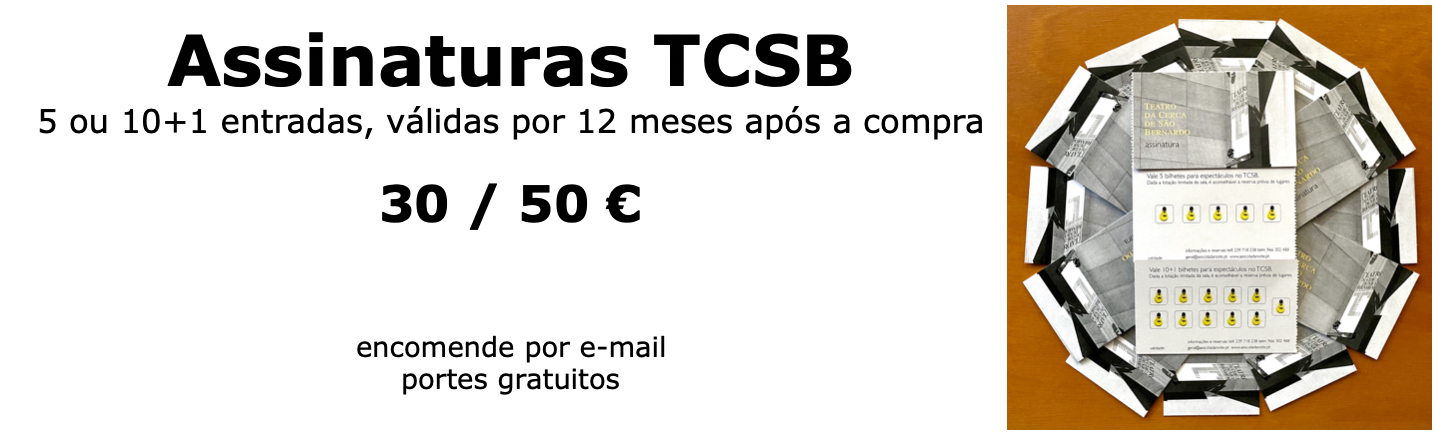Gil Vicente e os mistérios da sua Barca do Inferno
UM TEXTO E UM AUTOR QUE BEM CONHECEMOS
O Auto da Barca do Inferno é, decerto, um dos textos mais conhecidos do teatro português. Trata-se, em primeiro lugar, de uma obra sobre a qual já muito se escreveu. Existe investigação abundante e minuciosa sobre as “fontes” da peça por exemplo. Onde pode Gil Vicente ter encontrado inspiração para o julgamento a que submete as suas personagens? estaremos perante uma “fonte” literária ou perante uma imitação iconográfica? Num plano mais geral, muito se escreveu também sobre o contexto histórico-cultural que envolve a figura de Gil Vicente: qual o tipo de relações que mantinha com o Poder? até que ponto poderia ir o dramaturgo na sátira que dirige à corte e à sociedade do seu tempo?
O que se escreveu sobre estes assuntos, contudo, situa-se no domínio da investigação académica e raramente chega ao leitor comum. Não haverá, por certo, muita gente interessada em saber se Gil Vicente se inspirou ou não na Dança da Morte (uma das hipotéticas fontes iconográficas de que falávamos acima) para fazer esta peça (em 1516 ou 1517) e para conceber as duas que se seguiram imediatamente, tendo por temas o Purgatório (1518) e o Paraíso (1519).
Tão-pouco é provável que o espectador (ou o leitor) cultive um outro tipo de curiosidade, mais associada ao detalhe: quem era afinal um tal Garcia Moniz que o Enforcado menciona, dizendo que ele lhe garantira que, depois de cumprir o castigo ditado pela justiça dos homens, ficaria isento de penas na outra vida? por que razão terá Gil Vicente escolhido um frade dominicano (e não de outra ordem) para representar a mundanidade dos clérigos? por que motivo neste auto (como em muitos outros) a crítica vicentina à justiça se revela tão forte e insistente? como se explica a informação constante da Didascália, segundo a qual a peça foi representada nos aposentos de uma rainha doente e prestes a falecer?
Todas estas questões (e muitas outras) são passíveis de debate e algumas estão longe de se encontrarem totalmente esclarecidas.
Muito provavelmente, porém, a curiosidade dos espectadores não anda associada à erudição dos vicentistas. A grande maioria dos que hoje assistem à representação do auto conhecem-no sim, mas pelo facto de o terem estudado na Escola. Nas aulas de Português, tiveram, pelo menos, notícia geral do autor e da obra. Sabem que a Barca do Inferno se integra num vasto conjunto de cerca de meia centena de peças, que o autor compôs com uma regularidade impressionante, ao longo de 35 anos, nos reinados de D. Manuel e de seu filho D. João III.
A peça estuda-se no 9º ano, mais ou menos durante um mês e meio, quase sempre entre finais de Outubro e o Natal. Logo depois do contexto e de uma descrição panorâmica da estrutura, o aluno aproxima-se de cada uma das personagens para lhe perceber o significado social e moral. Não é forçoso que o professor se detenha em todas as personagens com a mesma minúcia. Mas há algumas que se impõem com naturalidade, ou porque parecem portadores de uma carga teatral mais forte ou porque se apresentam mais reconhecíveis pelos alunos. Todos reparam na alcoviteira e nas habilidades de sedução que exerceu em vida e persiste em praticar depois da morte, convencendo o Anjo a ignorar os seus pecados e a acolhê-la na sua barca. Do mesmo modo que reparam no judeu, estranhando quase sempre que a sua condenação se deva apenas a um “pecado” de religião. Costumam notar que se trata de um condenado especial: viaja para o inferno como a grande maioria dos que se submetem a julgamento; mas, como se isso não bastasse, viaja do lado de fora da embarcação, parecendo assim ser alvo de um castigo adicional. No pecado do frade, reconhecem facilmente muitos pecados modernos: alguém que se entrega aos prazeres, esquecendo compromissos e obrigações.
Acima de qualquer outra personagem, porém, ninguém se esquece do parvo Joane. Com ele, com as suas atitudes e palavras de rebeldia obscena se espantam e se riram já muitas gerações de alunos e professores. Acredita-se até que seja muito por causa dele que Gil Vicente (e este auto em particular) mantém, desde há muito, uma confortável posição nos programas escolares. Afinal, a inesperada irreverência de palavras que caracteriza a personagem também serve para provar que, mesmo há quinhentos anos, quando a sociedade era muitíssimo mais repressiva do que hoje, os escritores (e os artistas em geral) serviam de contraponto ao discurso alinhado, correcto e respeitador que normalmente associamos ao Poder. E não se pode deixar de simpatizar com Gil Vicente quando ele reserva um lugar no Paraíso a esses desalinhados. Sabemos que o destino do Parvo será bom e até se pode estranhar que ele não entre imediatamente na embarcação do Anjo. Embora existam diferenças (o Parvo tem de aguardar enquanto os cavaleiros obtêm entrada imediata na barca do Céu) o que caracteriza as personagens boas é o seu desapego em relação ao Ter e ao Poder. Em lugar de se terem deixado seduzir pelos bens materiais, os cavaleiros entregaram-se a uma causa de natureza espiritual, pagando essa entrega com a própria vida. Podemos hoje colocar em causa o sentido e os fundamentos dessa dádiva. O que conta na peça, porém, é que se trata de uma entrega radical, de compromisso e de renúncia, em tudo oposta ao mundo de enganos e prazeres em que escolheram viver todos os condenados.
AS SURPRESAS POSSÍVEIS
Ver em palco uma peça que se conhece não é mesma coisa do que assistir a uma outra sobre a qual não temos informação. Neste caso concreto, sabemos antecipadamente o que vai acontecer. O encenador conserva sempre uma boa margem de liberdade. Ainda assim, seria surpreendente que a vontade do dramaturgo fosse subvertida, a ponto de se colocar no Inferno quem Gil Vicente encaminhou para o Paraíso. Convém lembrar, a este propósito, que estamos perante uma moralidade, género teatral que, entre outros traços, se distingue pelo facto de nele ser bem visível a diferença entre o Bem e o Mal. Isso significa, na prática, que as personagens surgem caracterizadas com nitidez definitiva: de um lado situam-se aquelas que, tendo pecado gravemente, não podem ser salvas e, do outro lado, aquelas que conquistaram o Paraíso através de uma conduta virtuosa.
Ainda assim, mesmo sem alterações drásticas no domínio do conteúdo, sobram vários elementos de expectativa que podem ser explorados pelo encenador, pelo actor ou mesmo pelo aderecista.
Não sabemos exactamente como eram os Anjos e os Demónios que Gil Vicente apresentou à Corte em 1516 ou 17. Apenas podemos imaginar estereótipos. É certo que se tratava de figuras opostas e, até certo ponto, incomunicáveis entre si. Sabemos ainda (e é importante lembrá-lo enquanto assistimos à peça) que, ao contrário do que hoje acontece, a existência de Anjos e Demónios não era objecto de grandes dúvidas.
Hoje, que essa crença deixou de ser consensual, temos curiosidade em saber como vão surgir em palco os representantes do Bem e do Mal. Em princípio, deverá haver neles uma margem de convenção que possibilite o reconhecimento. Mas fica em aberto uma componente indefinida, que deriva da evolução que entretanto se operou sobre a percepção do Bem e do Mal. Um dos desafios mais interessantes a quem hoje encena a Barca do Inferno ou qualquer outra moralidade vicentina reside pois na composição das figuras do Anjo e do Diabo, o mesmo é dizer na representação da virtude e do pecado. Tanto mais que, para além de traços constantes, o dramaturgo introduz notas de singularidade, que variam de peça para peça: o Diabo e o Anjo das Barcas não coincidem, desde logo, com as figuras do mesmo nome que surgem no Auto da Alma, apesar de este ter sido representado em 1518, poucos meses depois da Barca do Inferno e no mesmo ano de Purgatório.
O mesmo sucede com as outras personagens, tanto àquelas muitas que são objecto de condenação como às poucas que alcançam a salvação. Alguns dos dilemas que se colocam ao encenador e ao actor resultam da estranheza que o espectador do século XXI experimenta relativamente à dicção, ao vocabulário, aos movimentos e aos ritmos que andam associados às figuras do século XVI. Como pode conjugar-se a identidade epocal das figuras com a necessidade de as tornar reconhecíveis para o espectador de hoje?
O mesmo sucede com o estudo do auto, nas aulas de Português. À luz da tolerância religiosa que hoje felizmente prevalece, os alunos têm natural dificuldade em perceber (e muito menos em aceitar) que seja condenado ao Inferno o praticante de uma qualquer religião minoritária, por exemplo. Do mesmo modo que, sem terem em conta os efeitos socialmente negativos que provocava nas suas vítimas, revelam dificuldades em compreender a severa condenação que atinge a alcoviteira Brízida Vaz. Isto para não falar do humilde sapateiro, que apenas parece ter exagerado no dinheiro que cobrava ao povo no desempenho do seu ofício.
Em face das circunstâncias actuais, podem compreender mais facilmente a condenação do onzeneiro ou do fidalgo tirano. O primeiro é um ganancioso e um fanático por dinheiro: praticou a usura, através de empréstimos a juros elevados. Traz consigo o bolsão onde guardava os capitais mas declara que vai vazio. No seu entendimento alienado, bastaria recuperar parte do dinheiro que acumulou em vida, para convencer o Anjo a recebê-lo. O segundo é um fidalgo de solar e, ao invés do que o contrato social previa, revelou-se distante e tirano em relação aos pequenos. Também ele julga poder chegar ao Paraíso através da simples invocação do seu estatuto ou das orações de sufrágio que alguém terá ficado a rezar por ele.
De resto, a alienação constitui a verdadeira tónica comum a todos os condenados: não compreendem nem aceitam que os valores pelos quais se regeram enquanto vivos já não se aplicam no cais da morte. Deste modo, embora possa dizer-se que é essencialmente preenchida por sombras (personagens falecidas), a peça ilustra sobretudo a obstinação de quem não consegue aceitar a mudança da morte e a justiça nova e definitiva que dela resulta.
O SENTIDO DE UMA MORALIDADE
A cena que requer mais explicação é, no entanto, a última. É quase impossível não reparar, em primeiro lugar, que antes de ingressarem na Barca do Paraíso, os cavaleiros de Cristo são interpelados pelo diabo:
Cavaleiros, vós passais
E não perguntais onde is?
Ao contrário do que sucede com todas as outras personagens (incluindo o que sucede também com o Parvo Joane), essa intercepção não resulta em diálogo. A aparente sobranceria dos cavaleiros pode querer dizer que, tal como sucedia com as outras personagens, também eles tinham pecados. Desta vez, contudo, não há lugar à sua evocação.
Empunhando as suas espadas e os seus escudos (atributo da sua militância cruzadística) as quatro figuras tinham surgido em cena entoando um vilancete de louvor à barca segura, que se inicia com o seguinte mote:
À barca, à barca segura,
Barca bem guarnecida
À barca, à barca da vida!
Para essa mesma barca se dirigem de imediato, ignorando a barca infernal, ou, como diz a didascália:
passando per diante da proa do batel dos danados
Em resposta à tentativa de acusação do Diabo, as personagens que encerram o desfile apressam-se a alegar a sua condição de mártires de Cristo (testemunhas da Fé), lembrando que o tipo de morte que sofreram basta para os resgatar de todos os pecados que eventualmente pudessem ter cometido:
Morremos nas partes d’além e não queirais saber mais.
É então a vez de o Anjo assumir um discurso assertivo, aduzindo a causa que explica o acesso imediato dos cavaleiros ao Paraíso. Recorde-se que, ao longo do auto, a assertividade encontra-se no discurso do Diabo, a quem cabe acusar e explicar.
Desta vez, contudo, os papéis invertem-se. A explicação é simples: já tínhamos visto o Anjo ser benévolo para com o Parvo, a quem assegurou a Salvação. Mas, se repararmos bem, o arrais do Céu tinha, desde logo, anunciado que se encontrava à espera de alguém:
Tu passarás se quiseres.
……………………………..
Espera entanto per i:
Veremos se vem alguém
Merecedor de tal bem
Que deva de entrar aqui.
A chegada dos cavaleiros coincide com a concretização dessa esperança. O motivo do resgate é indicado com clareza, a encerrar o texto do auto:
Ó cavaleiros de Deus,
A vós estou esperando,
Que morreste pelejando
Por Cristo, Senhor dos céus!
Sois livres de todo o mal,
Mártires da Madre Igreja.
Não vale a pena dizer o contrário: devolver vida e voz a uma criação teatral de há 500 anos requer algum esforço de compreensão histórica. Mas vale a pena empreender esse esforço de alteridade. Depois de vermos a peça e de nela termos pensado, ficamos bem mais preparados para entender os dilemas do Bem e do Mal: aqueles que eram próprios da sociedade quinhentista, em primeiro lugar; mas também aqueles que são característicos do nosso tempo.
Pela mão qualificada, segura e inventiva da Escola da Noite e do Centro Dramático de Évora (que, ao longo de varias décadas, vêm mantendo com Gil Vicente uma proximidade regular e feliz), ficamos em condições de problematizar temas de sempre: Morte e Vida, Mal e Bem, Ter e Poder. E, para tal, nem sequer precisamos de sair completamente do século XXI. Com os pés assentes no nosso tempo, bastará alongar o ouvido e apurar a visão para escutar a sensibilidade e a moral de um outro tempo que, afinal, não está ainda tão afastado de nós como pode parecer.
José Augusto Cardoso Bernardes
(Faculdade de Letras de Coimbra)