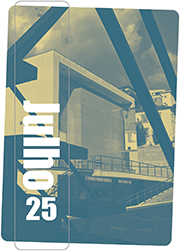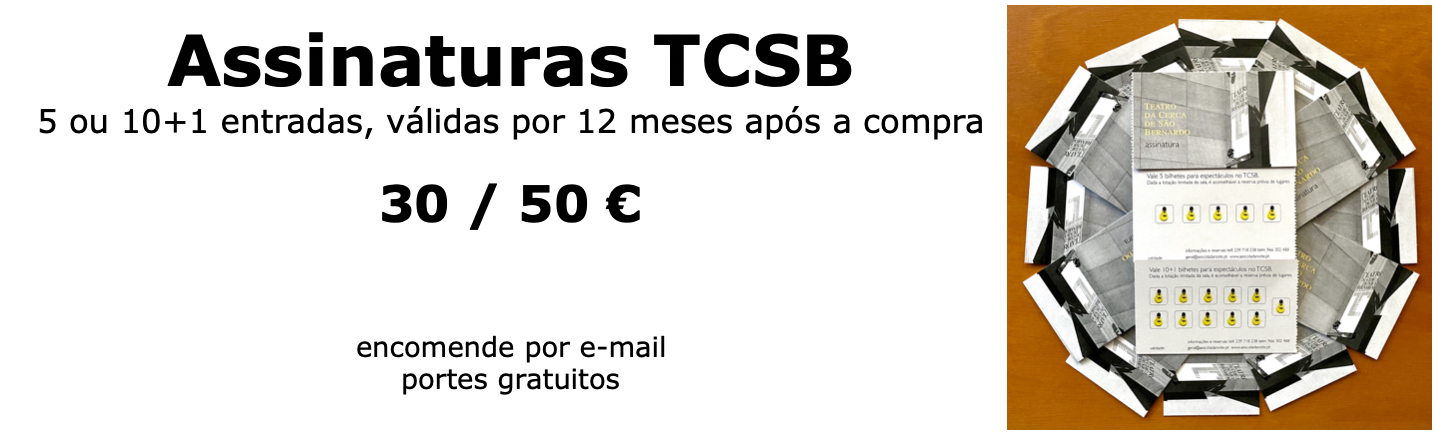Plínio, filho do vento, ladrão de almas

Plínio Marcos disse, em mais de uma ocasião, que ele era apenas um contador de histórias, histórias que depois viravam teatro, mas que, no essencial, eram histórias reais, reportagens. Plínio escrevia o que via e ouvia nas ruas, nos becos, em suas muitas andanças na batalha pela sobrevivência. Enquanto se firmava como dramaturgo, Plínio foi alternando de profissão, de artista circense, no início da carreira, para camelô, estivador, funileiro, faz tudo de bastidores, administrador de companhia de teatro, até cronista de futebol, entre outras atuações.
Para ele, os textos que escrevia não eram ficção, por isso ficava difícil entender a censura, a proibição de suas peças, taxadas como pornográficas e subversivas. Esse mesmo desentendimento acometia os críticos de teatro que, logo nas primeiras abordagens da obra de Plínio, tentavam justificar as qualidades literárias de seus textos, o mérito estético de suas peças, colocados em dúvida pelos censores, impressionados pelo teor desabrido do vocabulário das personagens e pelos enredos indigestos trazidos à cena. Na ignorância arrogante dos senhores e senhoras da Censura, os textos de Plínio Marcos ofendiam os valores morais e culturais da sociedade brasileira, justificando-se assim as medidas de interdição a que condenaram toda sua produção dramatúrgica.
A censura acertou-o já em sua primeira obra, escrita e produzida em 1959, antes mesmo que se instalasse a ditadura: Barrela teve uma única apresentação e, depois, permaneceu engavetada por 21 anos. Com a implantação do regime militar, em 1964, a situação agravou-se e a batalha contra a censura tornou-se rotina, bastando a menção do nome de Plínio Marcos para que as interdições fossem imediatas. A perseguição a ele, como prática da época, estendeu-se para além das peças, resultando em dois atos de prisão e várias detenções para interrogatório.
Em contrapartida, a luta pela liberação de suas peças foi pretexto para a mobilização da classe teatral contra a censura e a supressão de direitos: Abajur lilás, por exemplo, tornou-se um símbolo de resistência, depois de ter sido proibida pela segunda vez. Em 15 de maio de 1975, data da segunda interdição, quando a montagem da peça já estava pronta para a estreia, houve uma onda de protestos e, como consequência, naquela noite, muitos espetáculos foram cancelados, dando lugar à leitura de um manifesto. O texto fazia referência a outras proibições, como as das peças Rasga-coração, de Oduvaldo Vianna Filho, e Um elefante no caos, de Millôr Fernandes, e concluía com uma palavra de solidariedade às pessoas envolvidas na montagem de Abajur lilás. O cancelamento das apresentações de todos os espetáculos previstos para aquela noite, “decisão tomada por toda a classe teatral de São Paulo”, expressava a falta de “condições emocionais” para os elencos entrarem em cena. O manifesto continuou circulando e sendo lido antes das sessões em todos os teatros da cidade ao longo das semanas seguintes e foi um dos mais belos atos de coesão e espírito de luta da classe artística de São Paulo.
O que incomodava tanto os militares no poder era o retrato cru, desinibido e quase feroz da população marginalizada que Plínio levava à cena, exibindo e dando fala a figuras que a “sociedade de bem” da época não queria à vista, como prostitutas, cafetões, delinquentes de toda ordem, encarcerados, em suma, a considerada “escória” da sociedade, exposta em seus ambientes infectos, flagrada em disputas encarniçadas pela sobrevivência, em zonas limites de sanidade e violência.
As peças de Plínio Marcos foram saudadas pela crítica e pela classe artística como um fenômeno que abria portas e renovava a esperança na dramaturgia brasileira. Suas obras consagradas nesta primeira fase, como Dois perdidos numa noite suja (1966), Navalha na carne (1967) e Abajur lilás (1969) – vale mencionar ainda Quando as máquinas param (1963) e Homens de papel (1968)– foram um dos marcos mais radicais da dramaturgia da década, seguindo-se a ele uma nova geração de autores e autoras que se somaram num movimento de resistência, em defesa do teatro e das liberdades civis. Paradoxalmente, em contraste com a situação social e política, a década de 1970 foi um período de grande fertilidade para a produção do teatro, ainda que muitas vezes assentado numa linguagem metafórica, cifrada, como forma de poder existir.
Sem abandonar o retrato social pintado com cores cruas – entre os quais destacam-se Querô (1979) e Mancha Roxa (1988) –, e depois de passar alguns anos sem escrever, Plínio retorna aos palcos com Madame Blavatski (1985), peça sobre a escritora russa, pesquisadora do ocultismo e cofundadora da Sociedade Teosófica (1875). Essa obra chama a atenção da crítica para uma faceta do escritor pouco destacada até então: a que exibia espiritualidade e esoterismo como substância. Tais ingredientes, no entanto, não eram novidade na escrita de Plínio Marcos, já se haviam manifestados em peças como Balbina de Iansã (1970), ambientada na religiosidade do Candomblé, e Jesus-Homem (1978), cuja primeira versão, sob o título Dia virá, foi escrita em 1967.
Jesus-Homem revela nitidamente o entendimento de Plínio sobre religiosidade, que pouco tem a ver com ritos canônicos e misticismo beato, mas que promove uma leitura do Segundo Testamento focada no caráter revolucionário da doutrina cristã. O Cristo de Plínio luta em defesa dos oprimidos, o Judas não vende seu mestre por ganância, mas para provocar um sobressalto social que lhe permita iniciar um ataque armado aos poderes de Roma. Ademais, na encenação da peça que Plínio realizou com seu grupo O Bando, Cristo foi encarnado por um ator negro (João Acaiabe) e o espetáculo era marcado pelo ritmo do samba – espaço da música popular frequentado com gosto por ele –, trilha e execução a cargo de um quarteto de compositores ligados a Escolas de Samba de São Paulo.
Em 1986, durante o período de recuperação de um infarto, Plínio escreve Balada de um palhaço. O texto leva para cena novamente dois personagens que se enfrentam, mas, agora, o clima é de lirismo, com esteio filosófico. A peça tem como protagonista Bobo Plin, o palhaço infeliz que recusa dinheiro e sucesso fácil, que sai “em busca de sua alma”, que tenta recuperar a dignidade do artista que não se vende, do artista que quer tocar seu público e despertá-lo do torpor provocado pela sociedade de consumo.
Logo em seguida à Balada de um palhaço, surge o conto “Sempre em frente”, publicado na coletânea Canções e reflexões de um palhaço (1987). Em certa medida, o conto dá sequência à peça: é o palhaço na estrada, “filho do vento”, contador de histórias, que repassa as velhas piadas, que “arma sua poesia” em “praças sem liberdade, em jardins sem flores, debaixo do céu sem estrelas, à beira de córregos por onde escoa a merda”. O conto é também o vômito de indignação que a peça anterior não vislumbrou: a voz revoltada que vocifera contra os que têm armas e ódio, propriedade e propaganda, posses e poder. É ainda a confirmação do laço que une o palhaço a Jesus Cristo – a ele, mas não à Igreja ou à cultura judaico-cristã, com seus “dogmas, superstições, medos, culpas, propriedades”.
“Sempre em frente” foi posteriormente ampliado, ainda sob o formato de conto e, depois, como monólogo, levando ambos o título O homem do caminho (1996).
Na nova versão do conto – que coincide integralmente com o monólogo, a não ser pela presença das didascálias –, ganha forma mais precisa a figura do narrador, ainda que dilatado em múltiplas facetas. Ele é o palhaço, o andarilho pé na estrada, contador de histórias, cigano, ladrão mão leve que tem a arte de esvaziar os bolsos alheios, os bolsos dos que estão do outro lado. É o representante dos homens em movimento. Os da outra ponta, são os homens-pregos, homens que são “da mesma raça que o prego”, homens fixos, da linhagem dos Senhores, opressores, movidos pela posse e pela ganância. No confronto com seu antagonista, mimetizando-se às personagens que povoam suas histórias, o estradeiro ganha a potência que o poder material do outro não sustenta: ele é aquele cujo nome secreto pode enganar a Morte e aquele que, com sua maestria e potência sexual, leva as mulheres-pregos ao êxtase; são dele as piadas que denunciam os preconceitos, é ele o mestre das trapaças, o dono da lábia que conquista a mulher mais bonita. Mais que isso tudo, ele é o Homem do Caminho, aquele que os homens-pregos perseguiram, espancaram, crucificaram; aquele que se tornou maldito por causa de sua poesia, que foi preso e banido por ela. Por fim, ele é o homem que sabe ler os mistérios que se escondem nas cartas do Tarô, que sabe de todos os destinos, mas que sabe também que não há destino selado.
O monólogo O homem do caminho tem seu ritmo ditado pela sucessão de histórias, pela contação de vantagens do narrador e pela leitura das cartas do Tarô, como num ritual de cura, talvez assemelhado àqueles que o próprio Plínio conduzia por talento e como profissão na jornada final de sua vida.
Seria tolice afirmar que O homem do caminho é uma síntese da obra de Plínio, mas certamente qualquer aspecto de sua obra anterior encontra aí alguma citação, alguma pista. Mais acertado seria dizer que O homem do caminho é um texto que, sem ser autobiográfico, de algum modo, conta a história de seu autor, em especial do Plínio dos últimos tempos, espiritual sem deixar de ser um crítico da matéria, vidente do Tarô, curandeiro e palhaço e, como sempre, à margem.
É dessa época a imagem que persiste na memória de muitos de nós: a de encontrar Plínio Marcos nas portas de teatros, mais uma vez camelô, indo de teatro em teatro, durante a temporada de peças que não eram mais as suas, vendendo seus livros, livrinhos que ele mesmo editava e oferecia num corpo a corpo com os espectadores. Canções e reflexões de um palhaço era um desses. A figura simples de Plínio, chinelo de dedo nos pés, fala mansa mastigada, desbocado, insinuante e provocador, sempre disposto a uma polêmica, dizia muito sobre quem ele era.
Plínio nunca traiu sua história, sempre levou consigo as origens do circo, a intimidade com o homem simples, o fundo humanista, as raízes populares de palhaço saltimbanco, o entendimento da espiritualidade como autoconhecimento e, sobretudo, a indignação daquele que testemunha injustiças e não sabe se calar. Aquele que era simplesmente Plínio.
“Eu também sou filho de Deus, de Deus e do vento. Sou gente da estrada. E pega com arte. Usa o talento. Violência é coisa deles. A nossa é a magia, o encantamento, o risco, a alegria de viver. Essas coisas se aprendem, ninguém ensina. Está em cada um. Quem procura, encontra. No mais, andar. Andando, andando, andando. Sem ilusão. A viagem. E depois… ” (“Sempre em frente”).
Silvana Garcia
Pesquisadora diretora, dramaturga, dramaturgista; professora da Escola de Arte Dramática da Universidade de São Paulo.