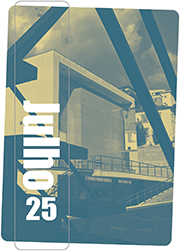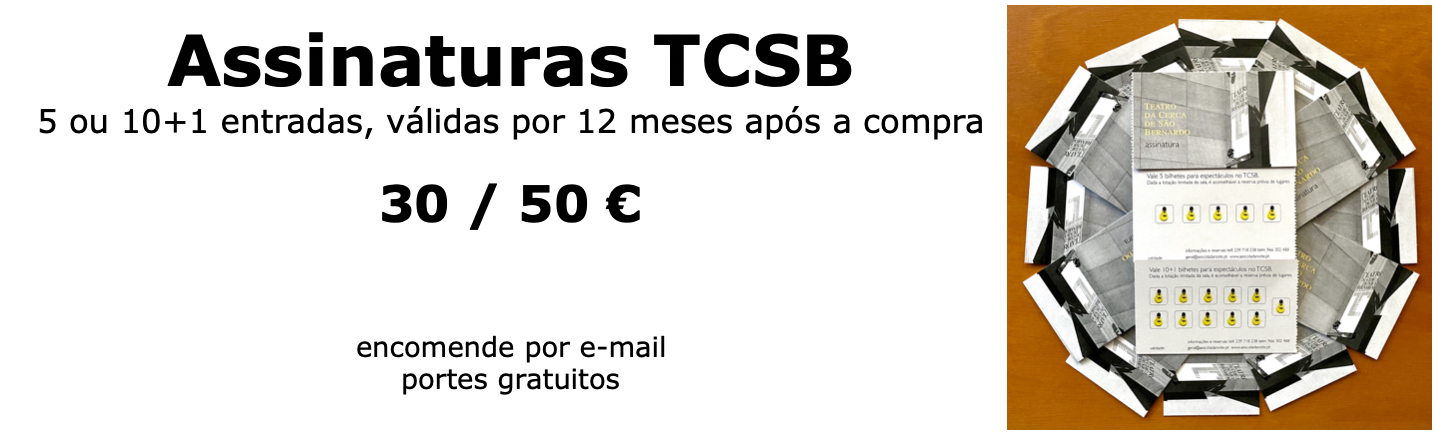Alice ainda vive aqui

Alice ainda vive aqui
Tom Murphy e a Trilogia de Alice
“You must go on. I can’t go on. I’ll go on.”
Samuel Beckett, The Unnamable.
Este título faz eco do filme Alice Doesn’t Live Here Anymore, de Martin Scorsese, que segue a vida de uma jovem mãe que, depois de enviuvar e de vários episódios on the road, procura realizar o seu sonho de infância de ser cantora. É um filme icónico dos anos setenta. Já não temos a inocência desses anos nem a Irlanda é a Califórnia.
Rever o trabalho de Tom Murphy no contexto que me foi gentilmente oferecido é um prazer que agradeço. Na pesquisa pelos exemplares das suas peças encontrei a tradução feita pelo saudoso Paulo Eduardo Carvalho de O Concerto de Gigli, com encenação de Nuno Carinhas, que não é assim recém-chegado à densa dramaturgia e aos problemas que Murphy nos propõe, quando agora assina a direcção desta trilogia para A Escola da Noite. Profundamente irlandesa e enraizada, a obra do dramaturgo encontra ecos no nosso mundo, hoje. A recente representação ainda em ensaio oferecida a um público de mulheres para celebrar o dia 8 de março foi logo eco dessa permanência e da visão desapiedada da sociedade contemporânea que, variando de pronúncia ou aspeto, aborda as angústias por resolver sobre as nossas escolhas fundamentais como sociedade.
Murphy conseguiu representar o movimento social que agitou a Irlanda em mais de dois séculos abordando os seus temas de maneira oblíqua, mas procurando sempre ir ao cerne das questões mais controversas da sociedade irlandesa que evolui muitas vezes apesar de si própria.
Recordo algumas peças que abordam temas de marginalidade social e fantasmas que não se resolvem sem uma introspeção da sociedade num todo, como são entre outras Famine (1968), Conversations on a Homecoming (1985), e A Whistle in the Dark (1961). Confrontando o grande trauma social que ficou silenciado durante mais de um século, com poucas exceções de nota em peças e romances, The Countess Cathleen, de WB Yeats (1892) ou The Silent People, de Walter Macken (1962), Famine apresenta a crueza do drama que assolou a sociedade irlandesa nos anos quarenta do século XIX, tão intensamente dramatizada pela encenação do Druid Murphy, uma homenagem ao autor pela companhia de Galway. Conversations põe-nos perante as diferentes nuances do que é voltar a casa para os emigrantes, da orgia do reencontro à constatação de que não se pode comprar o passado. Ao contrário da informação no Hotel California dos Eagles, /You can check out any time you like/ But you can never leave: aqui os irlandeses podem sair, estão condicionados para sair ao longo de séculos, mas nunca poderão regressar.
Em A Whistle in the Dark, a sua primeira peça, a constatação é que sair, recomeçar uma vida nova fora do círculo de violência familiar, de mentiras toleradas e aceites como regra, nem sempre é possível, quando o passado de que tentas fugir te bate à porta. A Whistle foi reposta o ano passado no pequeno Teatro Peacock em Dublini, pondo o público, por força da dimensão intimista do espaço, quase dentro da sala de estar dos Carneys, fazendo sentir toda a violência de gerações de famílias que integram visões demenciais de masculinidade a que agora se chamam tóxicas, por integração holística num conceito de sociedade ecológica. Tudo isto Murphy expõe antes do tempo, no seu tempo, na sua visão crítica e lúcida da sociedade.
As peças de Murphy que abordam questões de perceção, escolha e posicionamento de mulheres como Bailegangaire (1985), The Wake (1997) e esta Trilogia de Alice (2005), que A Escola da Noite nos oferece com uma força, criatividade e sensibilidade notáveis, dão corpo e voz à exclusão e violência sobre as mulheres dentro da família, que agora sabemos ser sistémica e não casos isolados.
Sempre que encontramos personagens que não parecem dominar o contexto das suas circunstâncias sentimos um mal-estar por sermos obrigados a fazer esse caminho por elas. É o desafio da obra aberta do drama sem resolução. Nesta peça o percurso de Alice é tão reconhecível e digno de ser narrado e de análise como outros mais orgânicos e com um propósito mais definido. No romance, Roddy Doyle fá-lo em The woman who walked into doors, personagem que só ganhará nome no segundo romance Paula Spencer, quando se libertou de um marido abusivo e violento e arranjou o seu primeiro emprego. Noutro registo, em The Secret Scripture, de Sebastian Barry, encontramos uma centenária presa numa instituição psiquiátrica, a fortaleza das fortalezas, mas não mais inexpugnável que os segredos de família que a confinaram uma vida inteira.
Nesta trilogia apresentada como uma única peça, temos um tríptico de Alice em três fases da sua vida – Apiário, Junto ao muro da fábrica de gás, No aeroporto. Usando o nome correto de uma elegante e confortável gaiola, vemos Alice com 25 anos, casada e limitada à sua domesticidade reprodutora, esposa e mãe. Nessa altura a jovem tem ainda viva a consciência de que tudo poderia ser diferente; tem um sótão onde a imaginação é livre e com a companhia do seu alter ego Al ensaia possibilidades dentro do espaço de tempo que lhe sobra antes de ir buscar as crianças. Apesar de se sentir grata por ter um marido decente, com um bom emprego e três crianças, ela entrevê dentro de si a possibilidade de todo um mundo selvagem e misterioso. Era só sair, ou suicidar-se, uma saída qualquer era possível. Estas imagens do-que-podia-ser acabam sempre a tempo de verificar que tem os rebuçados de mentol para disfarçar o hálito a álcool e de ir buscar os meninos. Esta gaiola adequada é protetora, mas não a deixa voar.
Não podemos deixar de pensar em Nora em Casa da Boneca, não por causa da influência de Ibsen sobre Murphy, que não tem aqui qualquer relevância, mas pela repetibilidade de uma experiência de ser mulher na Europa, em 1879 e em 2005: não é Murphy que imita Ibsen, são as circunstâncias das mulheres que se reproduzem apesar de grandes alterações sociais. Neste caso, a respeitabilidade burguesa determina o comportamento de uma e de outra.
Não é que as mulheres irlandesas não possam ou não saibam abrir a porta e sair, mas isso tem consequências. Quando Nora de A Sombra da Ravina de Syngeii saiu porta fora abandonando um casamento de subsistência sem uma réstia de afeto para uma vida nas estradas a dormir onde calhasse, a reação do público foi violenta. Resumo o tom da oposição à peça num título panfletário que circulou nessa ocasião – a mulher irlandesa pode morrer de coração partido, mas não sai de casa com um vadio. Oitenta anos depois a expectativa era ainda essa, apesar do liberalismo económico e aparente progresso com a entrada na CEE. As mulheres que viram o ensaio e a atriz titular encontram em Alice uma mulher angustiada, à procura, resignada, uma dessas mulheres que anseiam por vidas que não têm, vivem em prisões, mas sem pulseira eletrónica no pé.
Nos anos noventa Alice passa agora para o espaço exterior, já tem tempo para se dedicar a atividades fora do seu espaço de liberdade que era o sótão onde podia beber e imaginar outras vidas. Na oficina de escrita criativa, excelente ocupação para a esposa de um banqueiro de sucesso nos anos do Celtic Tiger, Alice põe no papel vidas outras que pode vislumbrar. A materialidade da escrita vai ter consequências que as conversas com Al não permitiam. Escrever uma carta a Jimmy, uma estrela de televisão e seu antigo namorado, desencadeia uma série caótica de possibilidades antes desconhecidas – ela pode escrever de forma convincente, evocar possibilidades que passam para o espírito do leitor e que ela não controla. É o que faz quem escreve ficção. Alice na casa dos quarenta escreve!
Uma outra revelação que este facto nos traz vem com a resposta à carta. Murphy proporciona uma reflexão mais alargada do conceito da imagem da gaiola dourada: Jimmy vive literalmente numa. A sua imagem televisiva enquadrada no ecrã de um feliz homem de sucesso é literalmente desmontada dada a oportunidade que ele antevê erradamente como uma possibilidade de fuga. Retomar esta relação permitiria escapar à paranoia e violência do mundo competitivo dos media. Este mal-estar na sociedade irlandesa não afeta só as mulheres confinadas a uma domesticidade obsoleta. Temos aqui homens felizes realizados com o seu sucesso? Nuno Carinhas desdobra o personagem aumentando a imagem da sua intensa desagregação. A voz masculina expressa e admite a sua insegurança, procura validação:“JIMMY: (…) Porque, quero eu dizer, comunicar, acho eu, tem o seu quê de hesitação? Está impregnado de medo? Que durante o processo de comunicação podemos ser rejeitados? Concordas com esta observação?”
Jimmy vira o percurso regular de regresso a casa por uma viela na zona industrial como um encontro para poder reiniciar uma relação da qual ambos guardam memórias muito diversas. O desespero da meia idade é exposto neste desejo urgente de reinventar um passado que tenha alguma réstia de autenticidade. Alice literalmente recusa a versão de si que lhe é oferecida pela visão intensa e apaixonada de Jimmy. Ela não é essa pessoa, ela quer ser a autora da sua narrativa, “com rasgos de inspiração”, sem reiterações da sua perfeição que recusa, mas também sem imagens idiotas de papá a fazer a barba de outras colegas do curso. Uma imagem desiludida, limitada, mas assumida como sua.
No aeroporto, Alice fala para si, observa sua vida de cinquenta anos de maneira tão desapaixonada e distante como observa o movimento do restaurante no meio do ruído dos anúncios, do movimento dos empregados, o marido que come em silêncio. Este alheamento é motivado pela tristeza da perda do seu filho mais novo numa banal morte acidental. As filhas também partiram, recriminando à mãe a sua frieza, causa dos seus distúrbios, e o filho saíra de casa para trabalhar num circo. Argumenta e defende a sua posição numa descrição desapaixonada e lúcida da sua vida, a perda dos pais que também foram uma desilusão, o feminismo falso da mãe e a frieza real e cruel do pai. Da sua vida conjugal faz uma avaliação positiva de cada passo, mesmo os menos bons, agora que “o pior aconteceu”. Houve uma altura em que ela achava que a vida era serena, tinha momentos de felicidade em que tudo fazia sentido, a vida era um paraíso, mas isso não tinha nada a ver com religião ou a sua prática. No Apiário declara inequivocamente que não gosta do Papa, num momento em que o país para durante a visita do Papa, uma mega-operação de euforia religiosa. No seu sótão, no seu armário, ela sabe que nada daquele circo a move.
“As coisas acontecem, não porque um poder divino assim o quer. (…) Se as pessoas querem passar o seu tempo a dizer que existem condições, causas, superstições, motivos para aquilo que acontece aos seres humanos, então que tenham a cortesia de aplicar as mesmas condições àquilo que acontece às plantas, aos animais e – porque não? – às pedras.”
Agora que esperam a entrega da urna com o corpo do seu filho, Alice aceita com respeito os gestos, as palavras do padre e dos funcionários que tratam da transladação. Nada faz qualquer sentido, apesar da linguagem atenciosa para que a situação seja menos confrangedora. Distante, alheada, Alice não as recusa, mas não encontra uso para aquelas palavras de conforto. A sonhadora fechada na sua gaiola dourada é agora uma mulher estoica que vê o seu sofrimento e a sua vida com desapego, e a lucidez de quem quase não está ali. “Ela não pensa, sente; entender? Não, reconhecer.” Nem tudo tem explicação.
Nesta peça Tom Murphy faz mais que percorrer o registo de vida alienada de uma Alice. Sem sair do seu lugar ela foi muitas pessoas, viu um mundo e foi limitada, quase sufocada, por ele. Dá testemunho. Identifica os homens da sua vida nas suas limi- tações, sem compaixão, reconhecendo-as. Há duas referências a duas outras mulheres que não são do seu círculo, a Embaladora operária fabril que é testemunha do encontro entre Alice e Jimmy e a empregada de mesa que oferece a única verdadeira oportunidade de contacto e empatia com outro ser humano. A empregada a quem também “o pior aconteceu” tem uma história que é imperioso contar a alguém, e esse alguém é Alice. Alice também tem muita coisa que contar. A nós.
Afetuosamente implantado no coração dos irlandeses pela sua capacidade de expor a crueza da sociedade, mas sem esquecer a sua humanidade, Tom Murphy, com o saudoso Brian Friel, contribuíram para a dramaturgia contemporânea universal. Concluo com uma citação da tradução que Paulo Eduardo Carvalho fez da peça Traduções, de Friel:
Tem cuidado Owen. Lembrarmo-nos de tudo é uma forma de loucura […].
Meu amigo, a confusão não é uma condição ignóbil.iii
Para todas as mulheres e homens que procuram o seu caminho, o teatro ajuda a abrir pistas. A Alice irlandesa hoje está lá na voz de dramaturgas intervenientes que continuam a abrir caminho e que, como as outras Alices, fazem o seu caminho, procuram um novo lugar mais habitável no seu mundo. O nosso mundo.
Filomena Louro
Professora Associada da Universidade do Minho
(A autora escreve segundo o novo acordo ortográfico.)
[TRILOGIA DE ALICE — Página do espectáculo]
i https://www.abbeytheatre.ie/whats-on/a-whistle-in-the-dark/
ii A peça [In] The Shadow of the Glen, de J.M. Synge, abriu a época teatral nas instalações de Molesworth Hall, em Outubro de 1903. Desde então criou-se uma divisão sobre a imagem da mulher irlandesa a ser representada no Teatro Nacional Irlandês, alienando uma parte do público nacionalista (cf. J.M.Synge, Collected Works – Vol. III: Plays – Book I, editado por Ann Saddlemyer, 1982, Colin Smythe, Gerrards Cross, Buckinghamshire). Em 1963, o CCT / Teatro Experimental do Porto levou à cena A Sombra da Ravina traduzida por Deniz Jacinto, segundo os arquivos do CCT/TEP.
iii Brian Friel, O Fantástico Francis Hardy, Curandeiro,Traduções, Danças a um Deus Pagão, Molly Sweeney; tradução de Paulo Eduardo Carvalho, Edição Livros Cotovia, Cadernos Dramat n.o 2, 2000, p. 194.