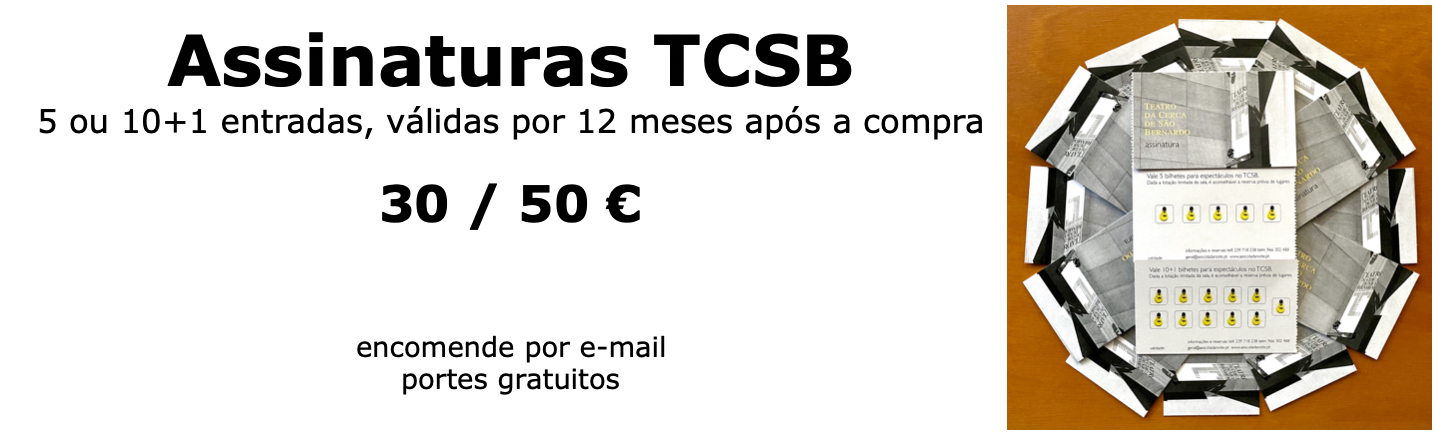“CABRAL É UM REVOLUCIONÁRIO PORQUE ELE LIBERTA”, Ângelo Torres
O actor Ângelo Torres nasceu na Guiné-Equatorial em 1968, filho de são-tomenses. Na infância e juventude, viveu em Espanha e estudou em Cuba, no início dos anos oitenta. Vive em Portugal desde 1986, com um vasto percurso no teatro, no cinema e na televisão. Nesta breve entrevista, fala-nos do espectáculo Amílcar Geração e da sua relação com o legado de Amílcar Cabral.

“Amílcar Geração” foi apresentado pela primeira vez em 2021, em Cabo Verde, no Festival Mindelact. Como é que surgiu o impulso para fazeres este espectáculo?
Foi em 25 de Novembro de 2016. Eu estava em casa. Todos os dias passo pela televisão cubana, pela Cubavisión. Nesse dia, vejo a bandeira de Cuba no ecrã, com música de fundo, e pensei: “esses gajos mais uma vez não vão fazer emissão”. Depois, vejo uma foto no fim e leio: “Fidel Castro Ruz, 1926-2016”. E comecei a chorar. A minha filha vê-me a chorar e pergunta: “Pai, estás a chorar porquê?”. “Filha, o Fidel morreu”. “E tu choras?”. “Claro que eu choro. Toda a minha estrutura de pensar, a minha forma de ver o mundo é cubana. O homem que eu sou deve-se muito a Cuba e ele é uma figura incontornável para a pessoa que eu sou hoje. É uma parte da minha vida que desaparece. A minha trindade é: Amílcar Cabral, Fidel Castro e Bob Marley. São as pessoas que eu mais admiro”. E a minha filha fez a pergunta: “Quem é o Amílcar Cabral?”. “Não sabes quem é o Amílcar Cabral? Nunca falei dele?”. “Não”. Isso, de repente, levou-me à minha infância.
Cabral é um nome incontornável da minha infância até Cuba. Eu sou de uma família de políticos: o meu pai, o meu tio, os primos do meu pai, os amigos do meu pai criaram o CLSTP – Comité de Libertação de São Tomé e Príncipe, que depois passa a MLSTP, em Guiné-Equatorial, onde eu nasci. Embora as reuniões fossem em casa do António Pires dos Santos, na casa da minha mãe era onde iam comer, todos os dias. No meio da comida discute-se muita coisa, fala-se de muita coisa. Eu não assistia às reuniões, mas soube de conclusões, de ideias, porque eles estavam lá. O meu trabalho era pôr os pratos, levantar os pratos, trazer mais um copo de água, estava nesse vai e vem entre cozinha e sala. Ouvi muita coisa. Cabral era um nome que eu ouvia constantemente entre o meu pai e os camaradas dele. Cabral fez isto, Cabral foi para as Nações Unidas, Cabral recebeu honoris causa, Cabral esteve com Olof Palme, Cabral vai ser recebido pelo Papa.
Eu cresci sempre com Cabral, Cabral, Cabral… Em 73 (naquele tempo as notícias andavam a pé), eu estava a pôr a mesa, eles foram chegando, devagar, sentaram-se, não sei quem foi… ou foi o Fret Lau Chong, porque na casa dele tinha telefone, ou o Guadalupe de Ceita, que era médico e director de saúde da Guiné Equatorial e ia muito a Bata, estava nesse vai e vem… um deles chegou e disse “Mataram o Amílcar”. Silêncio na sala. De repente: “Foi a PIDE! Foi a CIA! Foi a Mossad!”. Disseram todo o tipo de vernáculo que eu nunca ouvi essa gente dizer. Eles não tinham o hábito de usar o vernáculo do português, o máximo que eu ouvia era “porra”. Naquele dia foi: “cabrões, filhos-da-puta”. Tenho a sensação de que a partir daí esses camaradas perderam-se, perderam a bússola, perderam o Norte, perderam tudo. E de repente vamos para Espanha, voltamos outra vez para Espanha. Fiquei com duas coisas: um nome – “Cabral” – e um desejo – “quando formos independentes”. E uma ordem – “Cala-te, Ângelo!”, porque eu falava muito [risos].
De repente, Cabral desaparece. Eu estou em Espanha, regresso a São Tomé, vou para Cuba. Fui em 1979.
Em 1980, no dia 20 de Janeiro, os professores cubanos disseram: “Hoje vamos celebrar uma efeméride muito importante para vocês, portanto hoje ninguém vai para o campo” (porque quem ia para o campo de manhã ia para as aulas à tarde, quem ia para as aulas de manhã ia para o campo à tarde). “Hoje não há campo. Vamos ter várias actividades durante o dia, actividades de esclarecimento político, actividades culturais”. Estávamos lá todos, na área de formação. Éramos cabo-verdianos, são-tomenses, guineenses e sul-africanos. Sobe o director da escola, faz um discurso… Não prestei muita atenção ao que ele disse.
Estávamos todos excitados. Um colega nosso da Guiné-Bissau sobe e lê uns quantos poemas. Não era um grande declamador. Também não fiz muito caso. Sobe uma miúda chamada Mariana Monteiro – era uma das miúdas mais bonitas da escola –, agarra no microfone e canta. Na parte do refrão da música é “Cabral, Cabral, Cabral, lanta di koba pa no barsau” [1]. Quando ela começa a cantar a música, o pessoal guineense fica quieto, não mexe. Ficam todos parados. Ficamos todos calados. Depois ela conquista-nos e os guineenses começam a cantar com ela. Quando chega a “Cabral, Cabral, Cabral, lanta di koba”, foi uma explosão. Eles não cantavam, eles gritavam mesmo: “Cabral, Cabral, Cabral, lanta di koba pa no barsau”. Eu já falava mais ou menos o crioulo da Guiné-Bissau. Ao meu lado estava o Carlos Pereira, sobrinho da mítica Carmen Pereira, e pergunto-lhe: “Lito, quem é esse Cabral?”. O Lito olha para mim como se eu fosse um extra-terrestre, um burro: “Ângelo, Amílcar Cabral, o nosso líder, fundador do PAIGC”. De repente, na minha cabeça, fez-se um “match”. A pessoa que se celebra no dia 20 de Janeiro é aquele indivíduo que pôs os camaradas do MLSTP completamente perdidos. É a mesma pessoa: Amílcar Cabral. Naquela altura, eu não fiz caso. A verdade é que o que anunciaram na sala da minha casa foi “Mataram o Amílcar”. Foi o que o colonialismo fez, matou o Amílcar. Mas o Cabral continua vivo. Pelo menos, foi assim que eu interpretei.
Foi por causa disso. Quando a minha filha disse que não sabia quem é o Cabral, isso começou a bater-me.
Em 2018, eu pensei “45 anos da morte do Cabral, porque é que não se fala?”. E disse: tenho de fazer qualquer coisa. Eu conto histórias em muitas escolas. Se a minha filha não sabe quem é Cabral, os alunos que não têm nada a ver com esta realidade saberão ainda menos. Cada vez que vou para uma escola, desde 2018, pergunto “já ouviram falar de Amílcar Cabral”? Nada… De repente, começo a entrar no mundo de Cabral. Era um estratega, um sociólogo, um pedagogo, tudo. Como é que esse homem pôde ir para a frente de um movimento que enfrenta uma luta armada e ao mesmo tempo teve tempo de fazer diplomacia, fazer pedagogia, fazer filosofia, fazer sociologia? Esse homem era um super-homem. Então comecei a preocupar-me, a ir à procura, e decidi: tenho de fazer qualquer coisa. Um dia, cruzo-me com o Guilherme Mendonça e digo: “Guilherme, estou com esta ideia, o que é que achas”? E assim começa o desafio. Entretanto, escrever não é algo que tu vás para o armário e tires – “olha, está aí”. Precisas de tempo, precisas de inspiração, precisas de encontrar os ingredientes para poder fazer “match” na tua cabeça e começares a escrever. Pesquisar levou tempo. Em 2020, o Guilherme diz: “Estou com umas dúvidas aqui. O que é que tu sabes de Cabral?”. E começou a entrevistar-me. Foram horas e horas de falar – a minha infância, o que é que ele significou para mim, como é que eu tropecei com ele… Vem a pandemia, fomos protelando. Em Março, Abril de 2021, diz-me: “Tive uma ideia. Estive a ouvir as nossas entrevistas e eu acho que o primeiro acto pode ser tu a falares da tua vida”. “Estás doido ou quê? Vou juntar a minha vida ao pé do Cabral? Estás é maluco! Não vou comparar-me, pôr a minha vida pessoal ao pé de uma coisa que fala do Cabral. Nem pensar!”. Estivemos assim até Setembro. O Nuno [Pratas] chega e diz: “Pessoal, em vez de estrear aqui, temos dinheiro para ir para Cabo Verde, temos de ir para Cabo Verde”. Já em Novembro, o Guilherme diz: “Ângelo, esta ideia é genial. Tu fazes assim ou não há peça”. “Porra, se a ideia é do dramaturgo… está bem, está bem, ok”. Então ele fez um esboço, com os pontos que ele achava pertinentes, e começámos a ensaiar assim, uma semana antes de irmos para Cabo Verde. Chego em Cabo Verde, acagaçado, no dia 11 de Novembro de 2021. Tudo se decidiu lá. Não tínhamos cenário, não tínhamos nada, eu disse: “eh pá, uma cadeira serve”. “Como é que é a entrada?”. Não tínhamos pensado em nada, estávamos ainda a afinar essa ideia do Guilherme. E eu disse: “Fico sentado. O público entra e eu já estou sentado. Quero ver as pessoas”.
Fiquei sentado e as pessoas foram entrando. Entra um grupo de pessoas amigas minhas – cabo-verdianos, guineenses e são-tomenses que estão a viver agora em Cabo Verde. Ficam todos na terceira fila. Já tinha havido o anúncio “a peça vai começar”, mas nunca mais se apagava a luz do público. De repente, entram três pessoas, três mulheres, que vêm muito devagar a descer a escadaria. Colocam as três na primeira fila.
Na terceira fila, uma amiga minha da Guiné-Bissau começa a apontar para uma senhora fazendo sinais com as mãos. Apontava para a senhora. Eu, que estava em estátua, pensava: o que é que a Ducha está a querer dizer? Não queria mexer o rosto, não queria dar a entender que estava a ver as pessoas, que estava atento a elas. Faço a peça, acabo o espectáculo. Para meu espanto, as pessoas bateram palmas. Alguém gritou: “Viva! Viva! Cabral ka mori! Viva Cabral! Viva a independência! Viva o PAIGC! Viva os PALOP! Viva a CPLP!”. Era isto que eu pretendia, era isto que eu queria para a peça. Cumprimento as pessoas, saio, estou no camarim. Vem uma miúda de frente de sala, bate: “Ângelo, a Dona Ana quer falar contigo”. “Diz a ela para esperar. Queria tomar um banho estou com o corpo muito molhado por causa do suor da peça”. “Ângelo, é a Dona Ana Maria. A Dona Ana Maria!”. “Ana Maria? Ana Maria quê?”. “Cabral”. Congelo. Ana Maria Cabral? “Ela está aqui, quer falar comigo? Diz a ela para esperar, vou vestir-me rápido. Não vou tomar banho. Ela vai a sair?”. “Ela está aqui, em frente à porta”. A senhora entra e eu estava de tronco nu. Meto uma camisa e ela diz “Filho, eu já vi muitos homens assim”. Olhei para ela e a única coisa que me ocorreu foi “Mataram-no”. Ela disse “Eu sei”. “Ele morreu”. “Eu sei”. E eu começo a chorar. Abraça-me e eu, estúpido, perguntei “Gostou da peça?”. Uma coisa estúpida, não se pergunta. Ela abraçou-me e disse “Olha, você fez-me lembrar de coisas que eu queria esquecer”. “Desculpe”. “Não, não, desculpa não. Obrigada!”. Voltou a abraçar-me e foi-se embora. Eu sento-me e começo a chorar. É uma coisa que ficou desde aquele dia e que levo comigo sempre que faço esta peça.
Dá a sensação de que revisitas o teu próprio percurso à luz do legado de Cabral. É assim?
Eu levei essa semente desde criança. Mas só em adulto, e agora para fazer o espectáculo, é que eu vi afinal que os princípios e os valores cabralistas sempre foram incutidos em mim e eu nunca tive percepção disso. Uma coisa é certa: fui uma coisa até começar a fazer Amílcar Geração e sou outra coisa desde o instante em que começámos a pesquisar, a visitar o homem, o revolucionário, o libertador. Cabral é um revolucionário porque ele liberta. Ele foi obrigado a libertar-nos do jugo colonial, queria libertar tanto os povos africanos como o povo português. Essa liberdade está no pensamento, está na liberdade do indivíduo. Tu estás consciente de ti próprio, da tua função, do teu lugar na sociedade e essa sociedade é comunhão com os outros. Cabral defende o indivíduo sem o privilegiar. Para Cabral, a individualidade não é um privilégio, é um dever. Hoje em dia, vemos precisamente o contrário: o indivíduo é um privilégio, o individualismo é um direito que te assiste por seres humano, por seres homem, por estares aqui. Esse exacerbar da nossa individualidade está a levar-nos a um individualismo radical, extremo, em que não há espaço para a espiritualidade, para a convivialidade, para a união, para a partilha: “sou tão único que não me dou ao direito de querer ser igual ao meu camarada”. Cabral é precisamente o contrário.
Há uma frase muito forte, em que dizes: “A geração dos meus pais não esteve à altura de Cabral. Eu também não. Não fizemos o suficiente”. O que é que falta?
É precisamente isso: o compromisso. A vida é um compromisso. Se não tivermos esse compromisso não estamos à altura dele. Ele tinha um compromisso: dizia que a luta é uma acção cultural, é uma questão de libertação. O que é que liberta melhor o homem? A cultura. Se não tivermos esse compromisso, para connosco próprios e para com a sociedade, não estamos à altura dele. Ele era um workaholic, trabalhava imenso. Tinha um compromisso com a sua geração. E queria dialogar com ela.
O título do espectáculo pretende chamar a atenção para isso? Pretende chamar a atenção da tua própria geração, das gerações mais novas?
É precisamente isso. A geração Amílcar, a que o Pepetela deu um nome muito bonito, a Geração da Utopia, cumpriu com o seu desiderato: dar-nos a independência. Eles cumpriram, libertaram-nos. Ele próprio dizia: a luta da independência é necessária, mas a mais importante é a posterior, a do desenvolvimento. Essa luta já não era da geração deles. E essa própria geração falhou porque não soube preparar a sociedade para poder viver sem ela. Achou-se imortal, perpetuou-se no poder e para manter esse poder cometeram-se erros. Depois há outro grande engano que nos impingem e que a malta a toque de caixa vai cantando e bramindo por aí, que somos democratas e mais um monte de tretas. A democracia tem de ser discutida, analisada e depois aplicada consoante as realidades e as idiossincrasias de cada país. São Tomé não tem nada a ver com França. Os próprios americanos não reproduziram a democracia europeia. A Europa não reproduziu a democracia grega. A Grécia não reproduziu os ensinamentos que eles apanharam do Egipto antigo e da forma de actuar de muitas culturas africanas. Nós éramos democráticos. Discutíamos democraticamente, no jango. Debaixo da grande árvore, sentávamo-nos e discutíamos. Cada um dizia a sua opinião. E o soba, o régulo, o rei estava lá, ouvia a opinião dos outros e depois decidia. Decidia em consenso. Nós já o fazíamos. Porque é que de repente agora temos de aplicar este modelo que nos impingem? É eurocentrismo, essa forma como único modelo de desenvolvimento. Pode haver mais.
Nenhuma sociedade é perfeita. Alguém mais esperto do que eu disse isto: “a democracia não é perfeita mais é a mais perfeita das imperfeições de uma organização social”. Se ela não é perfeita, vamos aperfeiçoá-la. Só que cada um tem de aperfeiçoá-la atendendo ao seu país. Cabral tinha um modelo de sociedade, estava em busca desse modelo. Não teve tempo de encontrar. Ele dizia: não somos nem socialistas nem ocidentais. Nunca se assumiu, embora no seu pensamento social houvesse muito de esquerda. Ele era um homem de esquerda. Agora, que esquerda seria? O tempo é que iria revelar isso, na prática do poder, na sociedade.
Entrevista realizada e editada por Pedro Rodrigues
[1] “Cabral, Cabral, Cabral / levanta-te da cova para te abraçarmos”