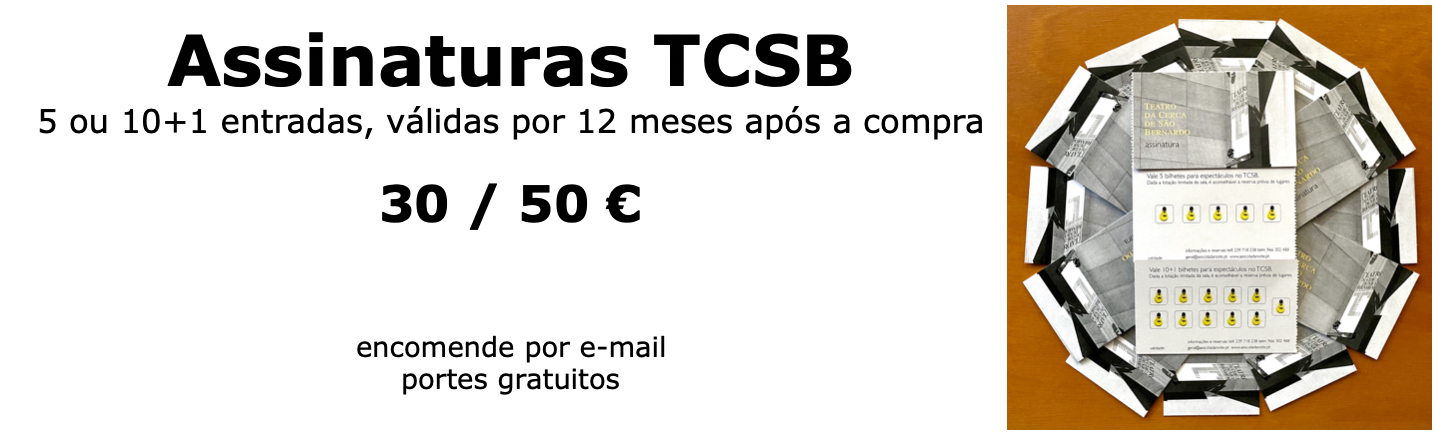A Contra Onda
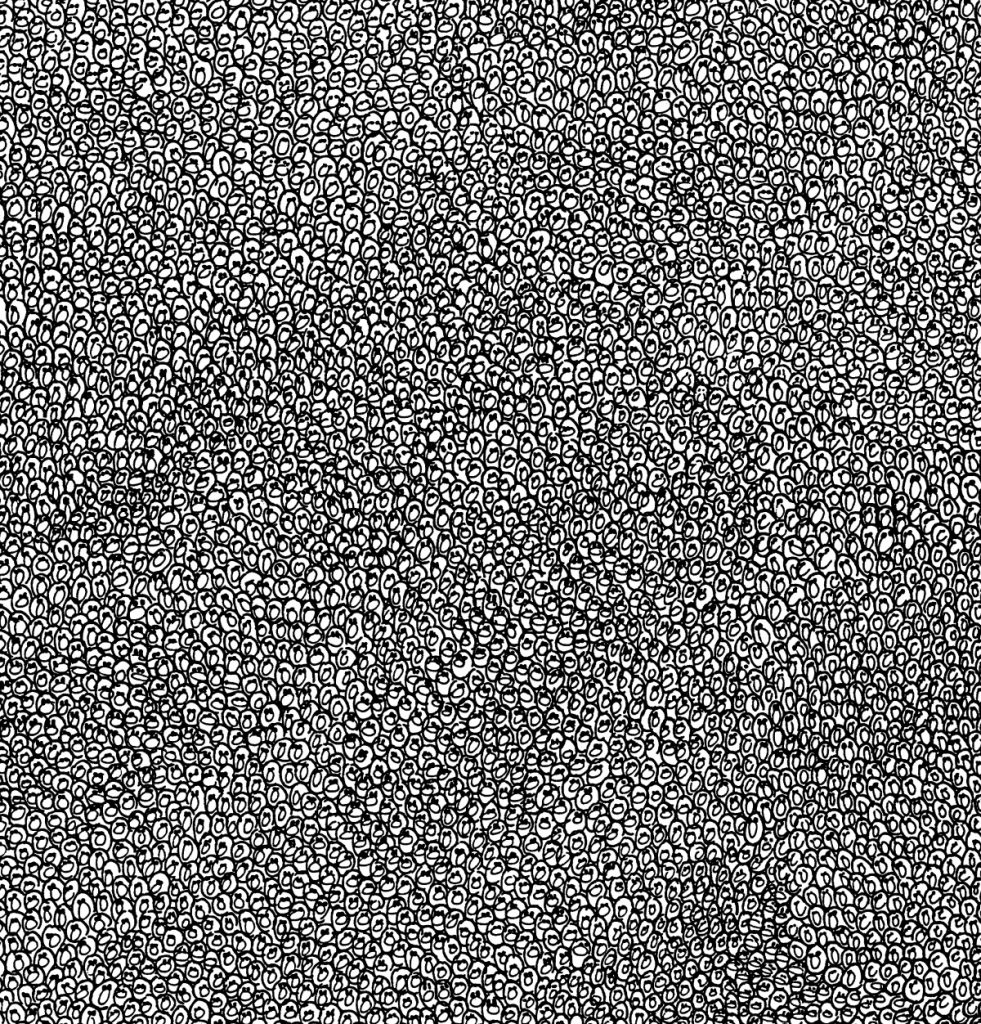
Sentem-se.
O oficial, estranhamente, fala com voz mansa. Neste silêncio, todos em sentido diante das mesas, a ordem cobre o refeitório. E nós, recrutas, novecentas estátuas pregadas ao chão.
Em Mafra chamam-nos nossos cadetes. Somos jovens soldados arrancados a outros chãos e desterrados aqui. Hirtos e de pé agora, sem saber ao certo se seremos capazes.
Pela manhã, quatro de nós morreram na lagoa: incidente de instrução. Enlaçados nos limos, movimentos tolhidos no abraço vegetal, sorvidos pelo negrume do charco: morreram a aprender a guerra. Esta guerra que temos pela frente. Sombria, como a lagoa. A lagoa onde, para espantar o medo, mergulhamos de G3. Para sempre, às vezes.
A notícia soube-se depressa. Sussurrada. E no quartel, labirinto de corredores e escadarias, passa-palavra num frenesim de fardas e botas, decidimos: ninguém come!
Sentem-se!
A ordem ganha agora a modulação habitual. Seca, estrídula, imperativa. Familiar. Se falharmos, cada um sabe ao que se expõe. Comem uma porrada do caralho! Os cabecilhas estão fodidos!, isso nos ensina a pedagogia da tropa. Cabecilhas, neste imenso refeitório, somos nós todos. Todos? Mal nos conhecemos. Juntos há dois meses, vivemos em desencontro. A correr uns para cada lado. Sem tempo para pensar. Sempre ocupados. A rastejar. Aos rebolões, à chuva, à torreira do sol. Queda na máscara, aos tiros. Em cada um a ânsia de fugir daqui depressa. Para a Ericeira, à tardinha. Para casa, aos fins-de-semana. Ou para longe.
Divididos por pelotões, companhias, só encontros breves na parada: as formaturas. E aqui no refeitório, repartidos por mesas. Longa fiada de mesas de dez. Frias. Como nós de pé agora. A resistir, a tentar resistir. Em silêncio. Em sentido.
Olho o camarada diante de mim, do outro lado da mesa. Revejo-me. Músculos crispados. Rosto tenso, barba crescida. Sulcos acres de suor na testa cor de saibro. A cabeça estonada e suja, as marcas do quico: auréola no crânio. A farda húmida de lama ainda.
Sinais de insubordinação.
Recusamos fazer a barba. Recusamos mudar de farda. Todos. E os frascos de tinta preta para engraxar as botas, em desvelos de lustro, acharam hoje outra serventia. Neste preparo, aqui no refeitório, somos o verdadeiro espelho da Nação.
Ao fundo, à minha direita, pressentem-se as passadas largas, nervosas, do capitão. E outros passos. Um tropel de botas. Entra e sai gente que o meu ângulo de visão não abarca. Fragmentos de conversas ciciadas, murmúrios. Adivinham-se estratégias.
Para nos vergar.
E entretanto, nós e eles estamos imersos no mesmo charco. Tecemos igual destino. Somos, nesta guerra, a mesma carne. Peões em tabuleiros de lodo, onde nos atolamos. Alguns já o terão compreendido. Não serão os chicos da disciplina cega, esses. Nem serventuários do poder. Mas quem são? Que rosto o deles? Onde se escondem?
O alferes do nosso pelotão, recém-saído da Academia Militar, este conhecemos bem. Respeitamos-lhe a consigna conhaque é conhaque, serviço é serviço e, em troca, deixa-nos cantar. Marcamos os ritmos das marchas matinais na tapada ao compasso do somos filhos da madrugada. E discutimos com ele o sem-sentido da guerra. Abertamente. Está nos antípodas do sargentanas da GNR da minha terra: Você instigou os do Calvário a escaqueirarem o painel na capela de La Salette! Eu?! Temos informações seguras.Viram-no na rua com uma máquina de escrever! Não negue!
Sentem-se!!
O tempo pára. A esta hora, lá fora, andam os prontos da guarnição ainda a tentar apagar pichagens pelos corredores e balneários. Os mesmos soldados com quem há momentos nos cruzávamos, eles a assobiar o mar enrola na areia, salpicados de cal, brocha na mão, a calar a força das palavras. Revolta de quatro palavras só. Gritadas à pressa nas paredes.
Em muitas paredes do quartel.
Agíamos quase lado a lado, nós a escrever, eles a afogarem a ira. A nossa ira. Uns compreendendo o papel dos outros. Tensão silenciosa de argumentos a preto e branco: ABAIXO A GUERRA COLONIAL!
Nesta postura rígida, o estômago vazio, o cheiro do rancho que pressinto a apurar nos panelões, nunca como hoje senti tanta fome. Até o pão em cima da mesa, humilde, solta um aroma tentador.
Procuro desviar o pensamento. Olhos em branco, observo por cima dos óculos o tecto deste salão colossal. Esmagador. Como tudo aqui, neste albergue de instruendos, aprendizes da guerra. Convento que renegou a vocação. Converteu-se à metralha, deixou cair o terço. Despiu o hábito, ataviou-se. Prometia o céu, fez-se inferno.
Sentem-se!!!
A voz de comando fuzila agora. Troa por cima das nossas cabeças. Na outra ponta, à queima-roupa, junto às mesas, oficiais subalternos secundam a ordem principal: Sentem-se! Sentem-se! Sentem-se! Por quanto tempo poderão os de lá do fundo, poderemos nós todos resistir? Nós, os do 1º curso de oficiais milicianos de 1971?
Longe, na frente, outros de nós estão neste instante de tempo suspenso a mergulhar em lagoas de medo. As mãos grudadas à G3. Enlaces de limos à espera.
De súbito, um barulho cavo. Vem do outro topo do refeitório. Mesa após mesa, rápida, sempre a galgar, a rendição ganha corpo de avalancha. Cada vez mais forte. Mais perto.
Rebenta a onda na nossa mesa. A derradeira. É preciso resistir. Será possível ainda? Olho em frente. E de novo me revejo no outro diante de mim.
Lívido. Estátua de medo.
Frágil muralha a suportar o embate.
Somos agora uma mesa em sentido. Dez homens por vergar. Dez apenas. Isolados. À mercê dos inventores de cabecilhas. Fodidos, irremediavelmente fodidos.
O tempo suspenso outra vez.
Transpostos os umbrais do medo, outros se abrem. Mais sinistros ainda. Não há retorno. E a saída, estranho modo de acção, é irmos para lado nenhum. É permanecermos especados aqui, como árvores.
Prisioneiros de um gesto.
Chumbados à pedra, imóveis, inquietos, em nós se centra agora o olhar do comando. Sentimos que algo de grave tem de acontecer. Nos vai acontecer.
Ardo em suor. Labaredas de gelo. Breve chegará o superior, mãos atrás das costas, sardónico: número mecanográfico?! Mais tarde, virão buscar-nos. Enterrar-nos nas trevas.
O silêncio atordoa.
Ao nosso lado, um. Depois outro. Outro. E outro. Outro a seguir. Devagar e sempre, um a um, de cá para lá, ergue-se a contra-onda. Mesa a mesa, sempre, a contra-onda. E num repente, de novo, somos novecentos homens de pé.
O medo não podia ter tudo.
Augusto Baptista, in O medo não podia ter tudo (com Francisco Duarte Mangas). Porto, Associação dos Jornalistas e Homens de Letras do Porto, colecção Memória Perecível, 2015 (1.ª edição: Campo das Letras, 1999; edição italiana: La paura non poteva vincere. Nápoles, Non- SoloParole Edizioni, 2006, trad. Luciano Mallozzi).